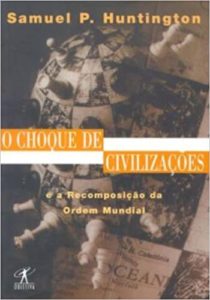Vinte anos dos ataques de Onze de Setembro de 2001 aos Estados Unidos da América
Para quem tem mais de trinta anos, 11 de setembro de 2001 é um dia inesquecível. Poucos são os eventos não relacionados às nossas vidas pessoais que ficam gravados na nossa memória de tal forma que nos lembramos exatamente do que estávamos fazendo quando recebemos a notícia. No meu caso há pessoal, apenas dois eventos desse tipo: a morte de Ayrton Senna e os atentados que hoje completam vinte anos.
O impacto foi tamanho em razão dos 2.977 mortos, de 77 nacionalidades diferentes (inclusive 5 brasileiros) e cerca de 6 mil feridos, dos gigantescos prejuízos financeiros, da surpresa, do ineditismo, e porque, mesmo intuitivamente, as pessoas sabiam que a partir daquele momento, o mundo seria outro.
Afinal, os Estados Unidos da América eram, à época, a única superpotência do planeta. Vivia-se a época da unipolaridade. A guerra fria havia terminado, e o vencedor, os EUA, eram indiscutivelmente a maior potência econômica, militar, cultural e tecnológica do planeta. E, apesar disso, os EUA tinham sofrido um ataque em seu próprio território apenas pela segunda vez na história. O primeiro, em 7 de dezembro de 1941, à Base de Pearl Harbor, tinha levado o país à 2ª Guerra Mundial. O segundo, levou o país à “Guerra ao Terror”.
A máquina militar norte-americana, que sempre teve a chamada guerra convencional, ou conflito de alta intensidade, como sua primeira prioridade de emprego, a partir daquele momento passava a se dedicar a outro tipo de conflito, de baixa intensidade, prolongado, de resultados muito mais dificilmente mensuráveis: o combate ao terrorismo, muito especialmente à Rede Al Qaeda de Osama bin Laden, responsável pelos ataques de 11 de setembro.
Assim, quase imediatamente, os EUA invadiam o Afeganistão. O grupo extremista Talibã, que governava o país e permitia que a Al Qaeda operasse a partir do seu território, foi deposto. Osama fugiu de seu complexo de Comando e Controle localizado nas montanhas de Tora Bora, fronteira com o Paquistão, para ser encontrado e morto por um grupo de Forças Especiais norte-americano somente em maio de 2011, no Paquistão.
Após a invasão do Afeganistão, que recebeu o apoio da comunidade internacional e da ONU, os EUA decidiram, também no contexto da Guerra ao Terror, invadir o Iraque e derrubar o ditador Saddam Hussein, sob o pretexto de que o país produzia armas químicas de “destruição em massa”. A comunidade internacional, neste caso, não apoiou a invasão, mas os EUA a efetivaram mesmo assim, derrubando o regime iraquiano.
Nos dois casos, Afeganistão e Iraque, a queda dos governos inimigos não significou o fim da guerra e o retorno dos soldados norte-americanos ao seu país. Seguiu-se a tentativa de implantação de regimes democráticos, de modelo ocidental. Essa tentativa de state building[1] encontra amparo em um pensamento ocidental de característica missionária, descrito, dentre muitos outros, da seguinte forma por Samuel Huntington.
O Ocidente – e em especial os EUA, que sempre foram uma nação missionária – está convencido de que os povos não-ocidentais deviam se dedicar aos valores Ocidentais de democracia, mercados livres, governos limitados, direitos humanos, individualismo e império da lei, e que deveriam incorporar esses valores às suas Instituições.[2]
Sugestão de leitura – compre o livro na Amazon
Neste aniversário de vinte anos dos atentados é desnecessário lembrar que, tanto no Iraque quanto no Afeganistão, os EUA fracassaram em sua tentativa de implementar regimes de corte ocidental. No primeiro, que assistiu no pós-guerra o nascimento do grupo terrorista Estado Islâmico, o governo se equilibra precariamente entre as tensões entre grupos sunitas, xiitas e curdos. No segundo, o Talibã está exatamente no mesmo lugar em que estava em 11 de setembro de 2001.
As falhas de segurança que permitiram a ação da Al Qaeda foram esquadrinhadas, e os EUA modificaram suas leis e ampliaram significativamente a estrutura de inteligência. A Agência Nacional de Segurança (NSA), a CIA e as demais agências de inteligência passaram a contar com ampla liberdade de ação. Qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, poderia ser alvo das agências e ter sua vida monitorada. A relativização da privacidade é uma das consequências do 11 de Setembro. As prisões arbitrárias de pessoas acusadas de terrorismo, mantidas encarceradas sem julgamento, e a divulgação das imagens do tratamento desumano dispensado aos presos da prisão de Abu Ghraib, no Iraque, abalaram a imagem dos EUA, tanto no exterior quanto junto à sua própria opinião pública, tornando a guerra impopular e contribuindo significativamente para o fim das operações em ambos os países.
Ao chegar ao aniversário de 20 anos dos atentados tendo se retirado completamente do Afeganistão, os EUA viram uma página dolorosa de sua história e, dessa forma, podem se concentrar nos desafios que não existiam à época, mas que hoje conformam o tabuleiro geopolítico mundial.
A China, que em 2001 ainda era a 7ª economia do mundo, passou a ser um desafiante de muito peso, capaz de rivalizar com os EUA em todos os campos do poder e de ameaçar os interesses norte-americanos, especialmente no Pacífico. A Rússia, que em 2001 ensaiava uma aproximação do Ocidente, após a invasão da Ucrânia e da anexação da Crimeia, voltou a ser o principal antagonista da OTAN e a almejar um protagonismo em sua esfera de influência.
Assim, creio que se os EUA forem capazes de evitar um novo atentado de proporções semelhantes ao 11 de setembro, dificilmente veremos aquele país voltar a se engajar em guerras como a do Afeganistão e a do Iraque. Eles agora têm outras ameaças, talvez ainda maiores, com que se preocupar.
[1] Construção de Estado
[2] Huntington, Samuel. O Choque das Civilizações. p.228. Ed Objetiva. 1996