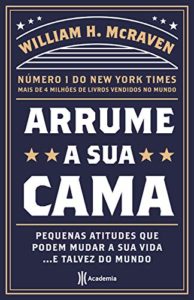CINCO LIÇÕES DE PANDEMIAS PASSADAS
Pandemias não são novidades para a humanidade. E o estudo das que já foram enfrentadas pode indicar perspectivas sobre o que está por vir. Iain King, em artigo para o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS) lista ensinamentos que as pandemias já enfrentadas legaram ao presente. Da leitura das reflexões de King, selecionei cinco lições que a história nos apresenta para o momento atual.
A primeira, no campo militar, aponta para uma tendência de paralização, ou redução, do impulso das campanhas militares em curso. Ele apresenta, como exemplo, a Guerra do Peloponeso, em 430 a.C., quando os atenienses foram infectados por uma peste. “Pessoas com boa saúde eram subitamente acometidas por fortes dores de cabeça, vermelhidão e inflamação nos olhos. Garganta e língua sangravam e exalavam um hálito artificial e fétido”. A descrição de Tucídides na magistral “História da Guerra do Peloponeso” mostra que a doença refreou o impulso ateniense, prolongando a guerra, que finalmente terminou vencida por Esparta. Outros exemplos seriam a epidemia que assolou a Rússia em 1771, obrigando a Imperatriz Catarina a diminuir a conscrição e negociar um acordo com a Prússia, com quem a Rússia disputava a posse da Polônia, e as epidemias que assolaram o Império Romano, refreando suas campanhas expansionistas.
Atualmente, a COVID-19 já provocou um cessar-fogo na guerra civil do Iêmen e uma sensível redução nas atividades russas e turcas na guerra civil da Síria. As grandes restrições orçamentárias que certamente virão após a crise farão com que as sociedades rediscutam a atuação de suas forças armadas em campanhas longínquas, nas quais os cidadãos médios veem pouca vantagem na relação custo x benefício. Por outro lado, também servirão de estímulo para se acentuarem as ações menos dispendiosas nos chamados “múltiplos domínios” do campo de batalha, como a atuação no campo informacional, com a intensificação de campanhas psicológicas e de desinformação, coisa que, aliás, já se vê nos dias atuais.
A segunda lição é o enfraquecimento da autoridade governamental. As revoltas na Inglaterra contra as medidas econômicas adotadas pelo Rei Ricardo II para responder aos efeitos da Peste Negra, no século 14, e o questionamento pela população de Atenas sobre a liderança de Péricles para o enfrentamento de uma epidemia letal de tifo na cidade, que afinal acabaria matando o próprio Péricles, são dois exemplos históricos.
É fácil perceber que tais questionamentos ocorrerão daqui para frente, ainda mais se considerando que a atual instantaneidade das comunicações facilita tremendamente a comparação dos desempenhos das diversas lideranças no enfrentamento da pandemia. Governantes e líderes, em todas as esferas de atuação e de todos os níveis, sobre os quais pesarem a responsabilidade de respostas inadequadas ou insuficientes, tanto no enfrentamento da crise propriamente dita quanto de suas repercussões econômicas, sofrerão com o descontentamento popular.
Uma terceira lição é o crescimento da superstição e das fake news. No século 19, espalhou-se a crença de que cintos de lã protegiam do cólera e que a tuberculose era transmitida por parentes falecidos, que retornavam dos túmulos. Diversos registros, de várias épocas diferentes, retratam desespero, fatalismo, fervor e psicose durante os tempos de pandemia.
Em 2020, a COVID-19 se mostra uma oportunidade para a disseminação de desinformação e notícias falsas, intencionalmente, ou de forma desavisada. Remédios caseiros ou industrializados são alçados à condição de cura milagrosa todos os dias. Teorias da conspiração, das mais diversas, emergem e são aceitas por importantes estratos da sociedade.
Uma quarta lição é o aumento da xenofobia e da busca por culpados. Durante a Peste Negra, houve um aumento do antissemitismo e da hostilidade contra peregrinos, mendigos e leprosos. Praticamente todas as pandemias da história resultaram em suspeitas e hostilidades contra estrangeiros. Não é diferente na crise atual, quando casos de xenofobia já foram registrados em várias partes do mundo, bem como a busca de bodes-expiatórios, muitas vezes, como no caso da China e dos EUA, de forma recíproca.
A quinta lição é a de que as pandemias apontam novos vencedores e novos perdedores no campo econômico. Os trabalhadores que conseguiram sobreviver à Peste Negra puderam exigir salários mais altos, em razão da súbita carência de mão de obra. Governos tiveram que se ajustar a orçamentos bastante reduzidos nos anos seguintes às pandemias, elaborando novas políticas econômicas que favoreceram alguns grupos em detrimento de outros.
A COVID-19 obrigará a mudanças semelhantes. Cadeias logísticas baseadas no sistema “just in time” e esquemas produtivos globalizados certamente sofrerão modificações. Setores inteiros, como o do entretenimento e turismo, por exemplo, certamente levarão mais tempo para se recuperar, enquanto outros, como os ligados à indústria farmacêutica e de saúde acabarão sendo beneficiados no cenário pós pandemia.