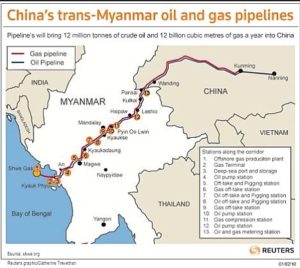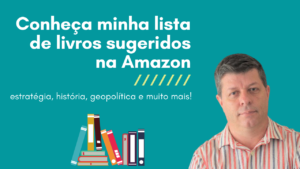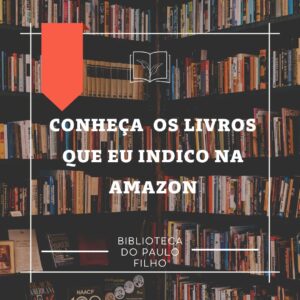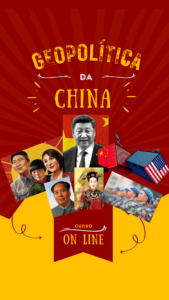Os desafios da política externa do Governo Joe Biden
Ao completar seu primeiro mês no cargo, o Presidente Joe Biden se defronta com vários desafios na política internacional. O manejo desses desafios começa a revelar os novos rumos da política externa norte-americana.
O enfrentamento das múltiplas questões que envolvem o relacionamento EUA/China é desafiado pela incrível complexidade das questões, além da falta de consenso no governo e no Partido Democrata sobre qual deve ser o foco da relação dos EUA com o gigante asiático. Há uma maioria que defende o fim da confrontação política permanente e do esforço de desassociação das economias (decoupling, no termo em inglês), posição defendida por poderosos grupos econômicos que mantém enormes interesses na China. Ao mesmo tempo, muitos integrantes do partido Democrata defendem maior assertividade norte americana na defesa dos direitos humanos na China e maior cooperação no enfrentamento das causas do aquecimento global, o que pressionaria a China também no campo da preservação ambiental, em razão de sua matriz energética altamente poluente.
No campo militar, a completa liberdade de ação norte-americana no Oceano Pacífico, conquistada no pós-guerra, continuará a ser desafiada pela crescente capacidade militar chinesa, especialmente sua marinha de guerra. Nesse sentido, o cumprimento de mais uma das chamadas “Operações de Liberdade de Navegação” pelo Contratorpedeiro (Destroyer) USS John S McCain, logo na primeira semana do governo Biden, navegando pelo Estreito de Taiwan e pelo Mar do Sul da China, costeando as disputadas Ilhas do Arquipélago Paracel, mostra a disposição norte-americana de manter inabalada sua influência militar na região.
Mas, encontrar o tom adequado da retórica e das ações militares exigirá habilidade. Por um lado, um aumento no tom de confrontação militar poderá deixar os aliados norte-americanos na área emparedados pela armadilha da neutralidade, uma vez que seus laços econômicos com Beijing são cada vez mais profundos. Por outro lado, qualquer ênfase em um “reset” na relação entre os dois países, que resulte em acomodações e concessões excessivas, acenderá um alerta em Tóquio, Seul, Canberra e Nova Déli, sem falar em Taipei, que poderão concluir que eles estão por sua própria conta, acelerando ainda mais a já existente corrida armamentista na região.
Os problemas a enfrentar no Oriente Médio não são menores. Biden acaba de retirar o apoio norte-americano à ofensiva saudita contra os Houthis no Iêmen, interrompendo a venda de armas aos árabes, além de revogar o ato do governo Trump, de janeiro deste ano, que designava aquele grupo como uma entidade terrorista. O governo norte-americano alegou razões humanitárias para isso, uma vez que tal designação bloqueava uma série de ajudas à população iemenita, terrivelmente castigada pelo conflito que já se arrasta há seis anos e que já causou mais de 100 mil mortes. A ONU classifica a crise no Iêmen como sendo a pior crise humanitária do planeta, com cerca de 80% de sua população de 24 milhões de habitantes necessitando de ajuda, incluindo-se 12 milhões de crianças.
É claro que os sauditas não ficaram satisfeitos com a retirada do apoio. É interessante notar que a ação militar do Reino no Iêmen começou em 2015, contando com a aprovação do governo Obama, de quem Biden era vice-presidente. Mas, oficialmente, o Reino declarou estar comprometido na busca de uma solução política para o conflito, que na verdade é mais um campo de sua disputa geopolítica regional com o Irã, patrocinador dos Houthis.
Isso nos remete ao Irã, e sua complicadíssima relação com os EUA. A Agência Internacional de Energia Atômica acaba de divulgar relatórios alertando que o país aumentou seus esforços de enriquecimento de urânio, instalando centrífugas novas e mais modernas em duas instalações nucleares diferentes. Este fato mostra que o Irã se afasta ainda mais do que havia sido pactuado no Acordo Nuclear de 2015, do qual o governo Trump se retirou em 2018. Com a volta das sanções econômicas que haviam sido levantadas pelo acordo, o Irã se sentiu liberado para descumprir abertamente os limites de enriquecimento de urânio previstos no pacto.
E esse é o nó górdio que a administração Biden tem que desatar. Retomar o pacto nas condições anteriores talvez seja impossível no momento. Já um pacto em novas bases, mais favorável aos interesses iranianos, deixariam os EUA em uma difícil situação com seus principais aliados na região, especialmente Israel.
Com tantos e tão complexos desafios, um desponta como preferencial em razão da facilidade de atuação, dado seu apelo mundial: a promoção da agenda ambiental, de enfrentamento das mudanças climáticas e do aquecimento global. Creio ser por aí que a administração Biden vai iniciar suas mais importantes ações no campo internacional.