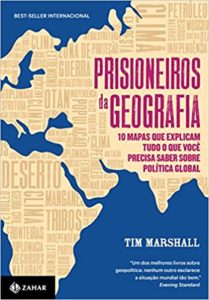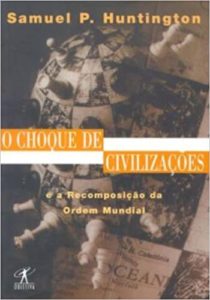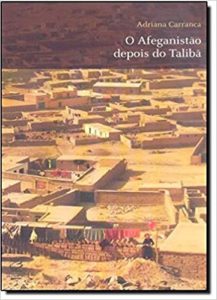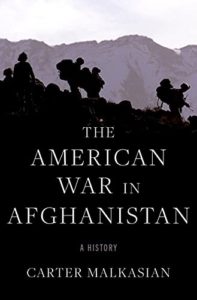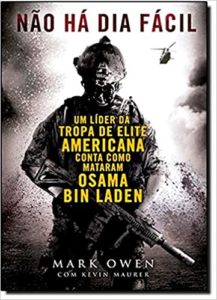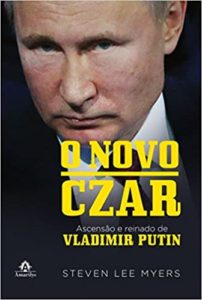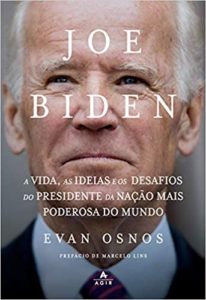As cenas das aeronaves civis e militares sendo cercadas por pessoas desesperadas para fugir do Afeganistão ficará gravada na memória dos milhões de espectadores que acompanharam pela televisão e pela internet a reconquista de Cabul pelo Talibã. Trata-se de um daqueles eventos marcantes que, por seu simbolismo, será utilizado por historiadores no futuro para explicar os acontecimentos marcantes desta segunda década do século 21.
Os custos da guerra para os Estados Unidos foram enormes. Morreram aproximadamente 2,5 mil militares norte-americanos; 1,1 mil militares dos países da coalizão e cerca de 70 mil militares afegãos. A esses números somem-se cerca de 50 mil baixas civis. Estima-se ainda que o esforço de guerra tenha custado cerca de 2 trilhões de dólares aos contribuintes norte-americanos.
Apesar desse esforço gigantesco em recursos humanos e materiais, os resultados não foram os esperados. E, ao final, os Estados Unidos da América, maior potência militar do planeta, e seus aliados da OTAN foram surpreendidos pela velocidade com que o Talibã executou sua ofensiva final, obrigando-os a uma humilhante retirada. Em meio ao caos das pessoas tentando chegar ao aeroporto para conseguir uma vaga em uma aeronave para fugir do país, atentados terroristas mataram cerca de 180 pessoas, dentre elas 13 militares norte-americanos.
Neste artigo, procurarei delinear o histórico dos acontecimentos, mostrando como caminharam para esse desenlace e apresentarei possíveis repercussões da nova situação política do Afeganistão para o chamado “Grande Oriente Médio” e para as potências do entorno, especialmente China, Rússia, Paquistão e Irã.
Sugestão de leitura – Compre na Amazon
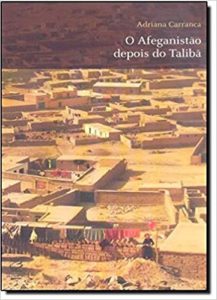 Autora – Adriana Carranca
Autora – Adriana Carranca
As intervenções norte-americanas no Afeganistão e no Iraque
Em 1990, reagindo à invasão do Iraque ao Kuwait, os EUA, autorizados pela ONU, lideraram uma coalizão militar internacional que derrotou o exército iraquiano e restabeleceu a soberania do Kuwait sem, entretanto, derrubar o regime liderado por Saddam Hussein no Iraque. Naquele episódio, um fato revoltou os grupos islâmicos radicais: as tropas ocidentais empregadas na Guerra do Golfo ficaram sediadas na Arábia Saudita, país islâmico sunita e wahabista, onde se encontram duas das mais importantes cidades sagradas do Islã: Meca e Medina.
É neste contexto que radicais islâmicos – em especial a rede Al Qaeda – planejaram e executaram uma série de atentados, contra o World Trade Center, em Nova York, em 1993, contra a base militar norte-americana em Kobhar, Arábia Saudita, em 1996, contra embaixadas dos EUA no Quênia e na Tanzânia, em 1998 e, finalmente, novamente contra as Torres Gêmeas do World Trade Center e ao Pentágono, em 11 de Setembro de 2001.
Esse último ataque, por suas inéditas proporções, vitimando mais de 3 mil pessoas em solo norte-americano, ganhou imediata repercussão mundial. A rede terrorista Al Qaeda, chefiada pelo saudita Osama bin Laden, foi imediatamente acusada de ser a autora dos atentados. Abrigada no Afeganistão pelo governo do grupo islâmico Talibã, que controlava cerca de 90% do território do país naquela época e era, de facto, o governo em Cabul, a Al Qaeda contava com ampla liberdade de ação nas montanhas ao sul do país, na porosa fronteira com o Paquistão.
Os EUA exigiram que o Talibã entregasse Bin Laden, o que não aconteceu. Em consequência, os norte-americanos iniciaram sua campanha militar no Afeganistão, novamente com o beneplácito da ONU, com o objetivo de retirar o Talibã do poder, desmantelar a rede terrorista Al Qaeda e eliminar Osama bin Laden.
As operações começaram em outubro de 2001 e, em dezembro do mesmo ano, o Talibã já havia sido retirado do poder. Osama bin Laden, entretanto, conseguiu fugir do seu complexo de comando e controle, escavado nas montanhas de Tora Bora, no sul do Afeganistão, próximo à fronteira com o Paquistão. O líder terrorista que havia planejado os atentados de 11 de setembro só viria a ser morto quase uma década depois, em maio de 2011, em uma ação norte-americana que encontrou seu esconderijo no Paquistão.
Mas as ações dos EUA não ficaram restritas ao Afeganistão. Em março de 2003, o país invadiu o Iraque, ainda governado por Saddam Hussein, alegando que o regime estava produzindo e estocando armas químicas de destruição em massa. Naquela oportunidade, diferentemente das anteriores, a ação militar norte-americana foi decidida unilateralmente, sem o respaldo das Nações Unidas.
Assim, os EUA mantinham, no contexto da estratégia de “guerra ao terror” que o país adotava naquele momento, duas intervenções militares ao mesmo tempo, no Afeganistão e no Iraque. Ambas as intervenções tinham por objetivos declarados a construção de regimes democráticos naqueles países, com instituições que fossem suficientemente sólidas para impedir que eles se transformassem em santuários para o planejamento de atentados terroristas sobre o território norte-americano ou europeu.
Nenhuma das ações obteve o êxito esperado. No Iraque, as tensões entre os grupos xiitas, curdos e sunitas se intensificaram, com os dois primeiros, que assumiram o poder no país, vingando-se dos anos de repressão promovida pelo partido de Saddam Hussein, o Baath, sunita. Este ambiente propiciou o surgimento da insurgência terrorista sunita, em especial o chamado Estado Islâmico do Iraque, que recrutou inclusive ex-integrantes das forças armadas iraquianas, que haviam sido desmanteladas com a queda do regime imposta militarmente pelos EUA.
A retirada das tropas norte-americanas do Iraque em 2011 deu espaço para o início de uma verdadeira guerra civil no país. Em junho de 2014, o Estado Islâmico do Iraque e do Levante (ISIS), grupo terrorista resultado da integração do já mencionado Estado Islâmico do Iraque a facções terroristas sunitas da Síria, proclamou o chamado “Califado Islâmico”, que chegou a manter o domínio do território em importantes porções dos dois países[1]. A reação ao grupo, no Iraque, foi feita pelo governo com apoio de milícias curdas e do Ocidente. Na Síria, o governo contou com forte apoio russo. No final de 2017, o ISIS finalmente foi derrotado.
Já as tratativas formais entre o governo dos EUA e o grupo Talibã no Afeganistão remontam ao ano de 2018. As conversas estavam baseadas em quatro premissas: os EUA retirariam todas as suas tropas; em contrapartida, os afegãos assumiriam o compromisso de que o país não se tornaria um santuário para grupos terroristas; deveria haver um amplo cessar fogo e um diálogo dentre todos os grupos afegãos na busca de um governo de consenso. Para que esse plano desse certo, o governo afegão, presidido por Ashraf Ghani, e o grupo Talibã, além das outras facções existentes no país deveriam conseguir chegar a um mínimo grau de entendimento. Ou, pelo menos, o governo afegão deveria ter condições de conter o grupo Talibã por tempo suficiente, após a retirada das tropas norte-americanas, para forçar o grupo Talibã a negociar. Nada disso aconteceu. Em uma ofensiva fulminante de cerca de dez dias, praticamente sem enfrentar resistências, o Talibã tomou para si o poder e o Presidente Ashraf Ghani fugiu do país.
A constatação inescapável é a de que as tentativas norte-americanas de instalar governos democráticos no Iraque e no Afeganistão não alcançaram o êxito esperado. O Afeganistão hoje é governado pelo Talibã, o mesmo grupo que estava no poder no início da guerra em 2001, e o Iraque vive grande instabilidade política.
Por outro lado, houve êxitos no nível tático. Osama bin Laden foi morto e o terrorismo da rede Al Qaeda e do ISIS foram muito enfraquecidos. Além disso, nesses últimos vinte anos, nenhum grande atentado terrorista ocorreu em território norte-americano.
O que pode acontecer no Afeganistão a partir de agora?
O desenrolar dos acontecimentos no Afeganistão, a partir de agora, deverá ser observado com atenção, para que se possa tentar antever os desdobramentos para o próprio país e para seu entorno.
Um primeiro ponto a se observar é se o país mergulhará em uma guerra civil ou se o Talibã será capaz de derrotar os demais grupos que tentarão disputar o poder, em especial a chamada “Aliança do Norte”, grupo que ainda controla do Vale do Panjshir, única área do país que não foi conquistada pelo Talibã em sua ofensiva final, e que é liderado por Ahmad Massoud, filho de Ahmad Shah Massoud, um comandante veterano da campanha contra os soviéticos na década de 1980.
Outro aspecto a ser acompanhado é a produção de papoula, base para a fabricação do ópio. O Talibã já se comprometeu publicamente a acabar com a produção da planta. Ocorre que ela é a principal fonte de financiamento do grupo. De acordo com um relatório do Escritório das Nações Unidas para as Drogas e o Crime (UNDOC), em 2020, houve um aumento de 37% da área de cultivo da papoula no Afeganistão, se comparada com 2019. Nesse mesmo estudo, o UNDOC afirma que mais de um terço dos fazendeiros entrevistados informaram que pagam impostos da ordem de 6% das vendas do ópio, principalmente, para o Talibã[2]. A transformação do território afegão em uma espécie de “zona livre” para a produção de drogas seria fator altamente desestabilizador para a região.
Um terceiro foco da atenção deve ser a possibilidade de aumento do terrorismo. Há um grande temor na comunidade internacional de que o território afegão volte a ser uma área livre para homizio, concentração e planejamento de ações terroristas. Embora o Talibã afirme que não permitirá que tais ações se desenvolvam, o atentado terrorista perpetrado pelo Estado Islâmico Khorasan, conhecido como ISIS-K, na região do aeroporto de Cabul, no momento em que os EUA e demais países do Ocidente faziam a retirada de suas tropas, serviu como um alerta de que o Talibã, mesmo que (e se) realmente quiser combater o terrorismo, talvez não tenha essa capacidade. É interessante notar que, em suas bases, o Talibã também possui militantes fanatizados, que podem muito bem servir de fonte de terroristas para o ISIS-K e outros grupos, caso acreditem que o governo Talibã tenha deixado de ser suficientemente rígido na sua interpretação dos valores pelos quais lutaram. E isso não é difícil de ocorrer, visto que as atuais lideranças do grupo, no governo, certamente terão que fazer concessões em favor da governabilidade, naturais do processo político e das relações internacionais.
Sugestão de leitura – Compre na Amazon
Autor – Patrick Cockburn
Repercussões da retirada norte-americana do Afeganistão
Vistos alguns possíveis rumos dos acontecimentos no Afeganistão, vejamos as possíveis repercussões para os principais atores internacionais envolvidos.
Os ecos da retirada serão fortemente sentidos nos Estados Unidos, tanto no campo interno quanto no campo externo. A sociedade norte-americana cobrará, especialmente por intermédio de seus congressistas e da imprensa, as razões para o fracasso da intervenção. A palavra “fracasso” aqui é usada propositalmente, porque essa será a percepção dominante na sociedade, mesmo que os eventuais sucessos táticos sejam apresentados ao grande público. E tal cobrança será grandemente potencializada caso ocorra algum atentado terrorista contra alvos norte-americanos em um futuro próximo. O atual governo, do presidente Joe Biden, sofrerá grande pressão e tenderá a responder com ações pontuais contra alvos identificados com o terrorismo no Oriente Médio e no norte da África.
No campo militar, os EUA fecham definitivamente a página da “Guerra ao Terror” e passam a se concentrar em uma nova era de competição estatal, conforme inclusive já preconiza a Estratégia de Defesa dos EUA[3], de 2018. O foco sai definitivamente do Oriente Médio e vai para a Ásia. Se no curto prazo, como se vê, a saída do Afeganistão é traumática para os EUA pelo inegável gosto de derrota, por outro lado, nos médio e longo prazos, os recursos economizados com o fim da guerra estarão disponíveis para serem empregados na Ásia, na contenção à China, e mesmo na Europa, na contenção à Rússia.
No campo externo, os EUA sofrerão um abalo em sua reputação. Adversários explorarão a narrativa de que o país abandona seus aliados, como teria feito com o governo afegão, deixado à mercê do Talibã. Esta é, inclusive, a narrativa que a China propagandeia, com o foco nos taiwaneses, indicando que estes igualmente seriam deixados sós contra a própria China em caso de um conflito entre chineses e separatistas taiwaneses.
Isso nos traz para as repercussões para a China. A potência asiática, vale a pena lembrar, faz fronteira com o Afeganistão através do Corredor Wakhan, em uma estreita faixa de terra de cerca de 70 quilômetros de largura. Do lado chinês da fronteira está Xinjiang, região autônoma habitada principalmente pela etnia uigur, um grupo majoritariamente islâmico. Xinjiang também é a base do grupo terrorista Movimento Islâmico do Turquestão Oriental, grupo separatista responsável, segundo o governo chinês, por mais de 200 ataques, com mais de uma centena de vítimas no país.
A China teme que o vizinho Afeganistão se torne um santuário para os terroristas, fortalecendo o movimento que atualmente se encontra enfraquecido.
A instabilidade no Afeganistão, caso o país entre em guerra civil, por exemplo, também seria muito ruim para a China, que possui uma série de interesses econômicos nos vizinhos Paquistão e países da Ásia Central. Os investimentos da Iniciativa Cinturão e Rota (Belt and Road Initiative) são fundamentais na estratégia de desenvolvimento econômico chinês e qualquer instabilidade que os ameace seria frontalmente contra os interesses chineses.
Assim, se à primeira vista o fracasso dos EUA no Afeganistão pode ser compreendido como vantajoso para a China, por outro lado a nova situação obrigará o país a assumir um protagonismo na segurança da região que antes era exercido pelos EUA, com todos os possíveis ônus que isso pode causar.
O governo chinês já está atuando para estreitar os laços com o governo talibã. A embaixada do país em Cabul foi mantida em funcionamento e espera-se que a China ofereça suporte financeiro ao país em troca da garantia de que não haverá nenhum tipo de apoio aos separatistas uigures.
Russos também têm motivos para se preocupar com o novo status afegão. A onda de refugiados afegãos em direção aos países fronteiriços de norte – Turcomenistão, Uzbequistão e Tadjiquistão – é uma grande preocupação para aquelas frágeis economias, e uma eventual instabilidade nesses países afeta diretamente os grandes interesses russos na Ásia Central. O Tadjiquistão já acionou a Organização do Tratado de Segurança Coletiva, aliança militar regional liderada pela Rússia, para auxiliar em uma eventual crise provocada por um grande afluxo de refugiados.
Para o Irã, as primeiras consequências podem ser econômicas. Em razão do isolamento imposto pelo ocidente, o Irã e o Afeganistão aumentaram suas relações econômicas nos últimos anos. Atualmente, o Afeganistão é um dos maiores destinos das exportações iranianas de não derivados do petróleo, em um volume de cerca de 2 bilhões de dólares ao ano. Uma crise econômica no Afeganistão traria, portanto, consequências bastante negativas para o Irã. Outra causa de preocupação é o afluxo de refugiados, que já são contados na casa das centenas de milhares de pessoas.
O Paquistão, vizinho de sul que compartilha com o Afeganistão uma fronteira porosa habitada pelos Pachtuns, etnia de origem do Talibã, certamente sentirá rapidamente os reflexos dos acontecimentos no Afeganistão. O país era, formalmente, um aliado norte-americano na guerra. Suas forças armadas, em razão disso, receberam bilhões de dólares dos EUA nos últimos vinte anos. Acontece que o Talibã, que muitos analistas afirmam ter sido uma criação do próprio serviço secreto paquistanês, encontra um grande apoio dentro do Paquistão. O país pretende evitar a todo custo que o Afeganistão caia na esfera de influência de seus arqui-inimigos, os indianos. Para os paquistaneses, o Afeganistão provê profundidade estratégica para um eventual conflito contra a Índia. Além disso, a proximidade do governo de Ashraf Ghani com os indianos era vista com muita desconfiança pelo governo de Islamabad. Assim, quando os diplomatas indianos foram um dos primeiros a abandonar Cabul quando da chegada do Talibã, isso foi comemorado como uma vitória pela imprensa paquistanesa.
Conclusão
O fim da guerra do Afeganistão pode ser considerado um marco nas disputas geopolíticas globais. Os EUA, por ora, se retiram da Ásia Central, como já tinham feito no Oriente Médio e no norte da África, caracterizando um provável pivô em direção à Ásia, na contenção da China, e mesmo um retorno de sua atenção à Europa, com o fortalecimento da OTAN na contenção da Rússia. Em consequência, o país perderá influência no Oriente Médio e na Ásia Central, o que alimentará certa narrativa de que vive momentos de declínio e perda de poder em sua disputa com a China.
A saída dos EUA dessas regiões abre espeço para uma atuação mais incisiva de Rússia e China, com as vantagens e desvantagens que acompanham este fato. A China passa a ter uma preocupação maior na sua fronteira oeste, somada às preocupações que ela já tinha em Xinjiang. Em compensação, se conseguir trazer o Afeganistão para sua área de influência, poderá fortalecer sua presença na Ásia Central e no Oriente Médio.
O Paquistão, embora comemore secretamente a vitória do Talibã, talvez perca muito apoio dos EUA, que poderão acabar cada vez mais alinhados com a Índia na busca da contenção da China.
Finalmente, o Afeganistão, transformado em “Emirado Islâmico do Afeganistão”, estará sob escrutínio da opinião pública internacional. O tratamento que dispensar às mulheres e às minorias, sua atitude face ao terrorismo internacional e ao tráfico de drogas e a sua capacidade de unificar o país evitando uma guerra civil serão os fatores que definirão se o país se integrará à comunidade internacional ou se será um pária, mais uma vez sujeito a intervenção das grandes potências. De qualquer forma, a retirada dos Estados Unidos permanecerá reforçando o mito da invencibilidade do Afeganistão em seu próprio território.
[1] Importante recordar que a Síria estava em guerra civil, com o Presidente Bashar al-Assad enfrentando diversos grupos, dentre eles, o ISIS.
[2] Disponível em https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2021/May/afghanistan_-37-per-cent-increase-in-opium-poppy-cultivation-in-2020–while-researchers-explore-novel-ways-to-collect-data-due-to-covid-19.html
[3] Saiba mais em https://paulofilho.net.br/2018/04/18/nova-estrategia-de-defesa-dos-eua-e-ataque-a-siria/ e https://paulofilho.net.br/2021/06/27/a-otan-e-as-mudancas-no-equilibrio-do-poder-mundial/
REFERÊNCIAS
BARMAK, Pazhwak; ASMA, Ebadi; BELQUIS, Ahmadi. After Afghanistan Withdrawal: A Return to ‘Warlordism’? United States Institute for Peace. Disponível em https://www.usip.org/publications/2021/06/after-afghanistan-withdrawal-return-warlordism . Acesso em 30 de agosto de 2021.
CASTRO VIEIRA, Danilo. Política Externa norte-americana no Oriente Médio e o Jihadismo. Editora Appris. Curitiba, PR. 2019.
__________. Irmandade Muçulmana. Editora Appris. Curitiba, PR. 2021.
GOMES FILHO, Paulo. Vinte anos de Guerra no Afeganistão. Blog do Paulo Filho. Brasília, DF. 2021. Disponível em https://paulofilho.net.br/2021/08/09/vinte-anos-de-guerra-no-afeganistao/. Acesso em 28 de agosto de 2021.
__________. Cemitério de Impérios. Blog do Paulo Filho. Brasília, DF. Disponível em https://paulofilho.net.br/2021/08/21/cemiterio-de-imperios/ . Acesso em 26 de agosto de 2021.
HELF, Gavin e BARMAK Pazhwak. Central Asia prepares for Taliban takeover. United States Institute for Peace. Disponível em https://www.usip.org/publications/2021/07/central-asia-prepares-taliban-takeover . Acesso em 30 de agosto de 2021.
UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME. Afghanistan Opium Survey 2020 Cultivation and Production ‒ Executive Summary. Disponível em https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2021/May/afghanistan_-37-per-cent-increase-in-opium-poppy-cultivation-in-2020–while-researchers-explore-novel-ways-to-collect-data-due-to-covid-19.html