General americano explica o ataque ao Irã
Transcrição do pronunciamento do General Caine acerca dos ataques americanos às instalações nucleares do Irã
Na noite passada, por ordem do Presidente, o Comando Central dos Estados Unidos, sob o comando do General Michael “Erik” Kurilla , executou a Operação Midnight Hammer, um ataque deliberado e preciso contra três instalações nucleares iranianas. Esta foi uma missão complexa e de alto risco, conduzida com excepcional habilidade e disciplina por nossa força conjunta. Quero agradecer a cada militar, planejador e operador que tornou esta missão possível.
Suas ações refletem os mais altos padrões das Forças Armadas dos Estados Unidos. Esta operação foi projetada para degradar severamente a infraestrutura de armas nucleares do Irã. Foi planejada e executada em múltiplos domínios e teatros, com uma coordenação que reflete nossa capacidade de projetar poder globalmente, com rapidez e precisão no momento e local de escolha da nossa nação. Esta foi uma missão altamente secreta, com pouquíssimas pessoas em Washington sabendo sobre o momento ou a natureza do plano. Vou me referir ao gráfico ao lado enquanto explico alguns detalhes operacionais.

Reprodução da imagem do vídeo do discurso do General Caine
À meia-noite de sexta-feira para sábado, um grande grupo de ataque de bombardeiros B-2 decolou do território continental dos Estados Unidos. Como parte do plano para manter a surpresa tática, parte do grupo seguiu para o oeste, para o Pacífico, como um esforço de distração, conhecido apenas por um número extremamente reduzido de planejadores e líderes-chave em Washington e Tampa. O principal grupo de ataque, composto por sete bombardeiros B-2 Spirit, cada um com dois tripulantes, prosseguiu silenciosamente para o leste, com mínimas comunicações.
Durante o voo de 18 horas até a área-alvo, as aeronaves realizaram múltiplos reabastecimentos em voo. Uma vez sobre terra, os B-2 juntaram-se às aeronaves de escolta e apoio em uma manobra complexa e rigorosamente cronometrada, exigindo sincronização exata entre várias plataformas em um estreito espaço aéreo, tudo com comunicação mínima. Este tipo de integração é exatamente o que nossa força conjunta faz melhor que qualquer outra no mundo.
Por volta das 17h (horário padrão do leste dos EUA) de ontem e pouco antes do grupo de ataque entrar no Irã, um submarino dos EUA na área de responsabilidade do Comando Central lançou mais de duas dúzias de mísseis de cruzeiro Tomahawk contra alvos estratégicos de infraestrutura em Esfahan. À medida que o grupo de ataque da Operação Midnight Hammer entrava no espaço aéreo iraniano, os EUA empregaram várias táticas de distração, incluindo iscas, enquanto aeronaves de quarta e quinta geração avançavam à frente do grupo de ataque em alta altitude e alta velocidade, neutralizando ameaças de caças inimigos e mísseis terra-ar.
O grupo de ataque recebeu apoio do Comando Estratégico dos EUA, Comando de Transporte dos EUA, Comando Cibernético dos EUA, Comando Espacial dos EUA, Força Espacial dos EUA e Comando Europeu dos EUA. Ao se aproximar de Fordow e Natanz, as aeronaves de proteção dos EUA utilizaram armas de supressão de alta velocidade para garantir a passagem segura do grupo de ataque, com caças empregando fogo preventivo contra quaisquer potenciais ameaças iranianas terra-ar. Até o momento, não temos conhecimento de disparos contra o grupo durante a entrada.
Por volta das 18h40 (horário padrão do leste dos EUA), 2h10 no horário do Irã, o primeiro B-2 lançou duas bombas penetrantes GBU-57 sobre o primeiro dos vários pontos de mira em Fordow. Como o Presidente afirmou ontem à noite, os bombardeiros restantes também atingiram seus alvos, com um total de 14 bombas GBU-57 lançadas contra duas áreas nucleares.
Todos os três alvos da infraestrutura nuclear iraniana foram atingidos entre as 18h40 e as 19h05 (horário padrão do leste dos EUA), aproximadamente às 2h10 da manhã no horário local iraniano, com os mísseis Tomahawk sendo os últimos a atingir Esfahan, garantindo a manutenção do elemento surpresa durante toda a operação. Após o lançamento das armas, o grupo Midnight Hammer saiu do espaço aéreo iraniano e iniciou o retorno. Não temos conhecimento de disparos contra o grupo na saída. Os caças do Irã não decolaram, e aparentemente os sistemas iranianos de mísseis terra-ar não nos detectaram. Durante toda a missão, mantivemos o elemento surpresa.
No total, as forças dos EUA empregaram aproximadamente 75 armas guiadas de precisão durante esta operação. Isso incluiu, como o Presidente afirmou ontem à noite, 14 bombas penetrantes massivas GBU-57 de 30.000 libras cada, marcando o primeiro uso operacional desta arma. Sei que os danos resultantes são de grande interesse. A avaliação final levará algum tempo, mas análises preliminares indicam que os três locais sofreram danos e destruições extremamente graves.
Mais de 125 aeronaves dos EUA participaram desta missão, incluindo bombardeiros furtivos B-2, múltiplas esquadrilhas de caças de quarta e quinta geração, dezenas de aviões-tanque para reabastecimento aéreo, um submarino lançador de mísseis guiados e uma completa gama de aeronaves de inteligência, vigilância e reconhecimento, além de centenas de profissionais de manutenção e operações. Como o Secretário mencionou, este foi o maior ataque operacional com B-2 na história dos EUA e a segunda missão mais longa do B-2 já realizada, excedida apenas pelas missões imediatamente após o 11 de setembro.
Bem antes do ataque, o General Kurilla elevou as medidas de proteção da força em toda a região, especialmente no Iraque, Síria e Golfo. Nossas forças permanecem em alerta máximo e estão plenamente posicionadas para responder a qualquer retaliação iraniana ou ataques por procuração, o que seria uma péssima decisão. Nós nos defenderemos. A segurança de nossos militares e civis permanece nossa prioridade máxima.
Esta missão demonstra o alcance, coordenação e capacidade incomparáveis das forças armadas dos EUA. Em poucas semanas, fomos do planejamento estratégico à execução global. Esta operação enfatiza as capacidades incomparáveis e o alcance global das forças armadas dos EUA. Como o Presidente disse claramente ontem à noite, nenhuma outra força militar no mundo poderia ter realizado isso. Junto-me ao Presidente e ao Secretário no orgulho extremo das tripulações aéreas, forças navais, operadores cibernéticos, planejadores e equipes de apoio e comandantes que tornaram esta missão possível. É a habilidade, disciplina e trabalho em equipe deles que tornam esta operação possível.
Estou particularmente orgulhoso de nossa disciplina em relação à segurança operacional, algo que preocupava muito o Presidente, o Secretário, o General Carrillo e eu, e continuaremos a focar nisso. Neste momento, muitos recursos ainda estão no ar e centenas permanecem desdobrados. Peço que mantenhamos nossos militares retornando para casa e os desdobrados em nossos pensamentos. Nossa força conjunta permanece pronta para defender os EUA, nossas tropas e nossos interesses na região. Muito obrigado.








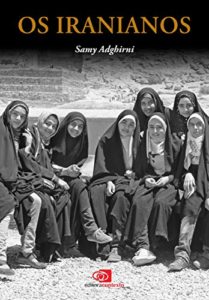 Autor –
Autor – 
